
Um trovão em um céu que parecia apenas azul. No dia 11 de setembro de 2001, ataques antes impensáveis atingiram os Estados Unidos, país que se acreditava intocável depois de vencer a Guerra Fria, e destruíram a ilusão de futuro pacífico.
Quando os atentados da rede terrorista Al-Qaeda mataram quase 3.000 pessoas, os Estados Unidos, e o mundo, entraram em uma "guerra contra o terrorismo" que dominaria as relações internacionais por duas décadas, alterando de forma duradoura o equilíbrio no Oriente Médio e mascarando o ressurgimento da Rússia como rival estratégico e o surgimento da China como o novo adversário número um.
"Hoje chegamos ao final de um ciclo estratégico e encerramos um intervalo, no qual o jihadismo internacional era o único inimigo identificado", declarou à AFP Elie Tenenbaum, coautor do livro "A guerra de 20 anos".
De acordo com este pesquisador do Instituto Francês de Relações Internacionais (IFRI), "a concorrência estratégica entre grandes potências volta a ser o paradigma internacional, com o surgimento de outras questões que relativizam a ameaça terrorista", começando por um confronto com ares de nova guerra fria entre Washington e Pequim.
Círculo completo?
E, para mostrar que finalmente o círculo se completou, Joe Biden queria que o 20º aniversário coincidisse com a retirada total das tropas americanas do Afeganistão. O país foi invadido pela coalizão liderada pelos EUA após os ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono para iniciar a caçada à Al-Qaeda, que executou os atentados, e expulsar os talibãs, grupo que havia oferecido um santuário à rede extremista.
Agora, o símbolo se voltou contra o presidente dos Estados Unidos: às vésperas do 11 de setembro de 2021, os talibãs voltaram a controlar Cabul, depois de uma vitória relâmpago sobre o Exército afegão que Washington se gabava de ter formado, financiado e equipado.
"Se o círculo parece estar bem e verdadeiramente fechado é, lamentavelmente, porque esta parte do mundo corre o risco de abrigar mais uma vez extremistas muito violentos", critica Mark Green, congressista republicano na época dos ataques e atualmente presidente do "think tank" Wilson Center, de Washington.
Este ex-diretor da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês) está entre os que pensam que teria sido razoável deixar no Afeganistão os 2.500 soldados americanos que ainda estavam no país no início do ano. Com isso, acreditam, seria possível preservar tanto as conquistas como os direitos das mulheres, que foram brutalmente castigadas pelos talibãs em seu governo anterior.
"Apólice de seguro"
Por outros motivos, estritamente vinculados à luta contra o terrorismo, John Bolton, ex-embaixador americano na ONU, está irritado com os sucessivos presidentes de seu país.
Os democratas Biden e Barack Obama, mas também o republicano Donald Trump, de quem foi conselheiro de Segurança Nacional por pouco tempo, estavam muito ansiosos, na sua visão, para atender o desejo de uma opinião pública cansada das "guerras sem fim dos Estados Unidos".
"Vinte anos é uma gota no oceano", afirma, com o estilo provocador que o caracteriza, este soberanista que há anos defende o intervencionismo norte-americano.
"Não explicaram por que é melhor se defender do risco de terrorismo no Afeganistão do que nas ruas e no céu dos Estados Unidos", disse à AFP.
Para Bolton, a presença no Afeganistão era uma "apólice de seguro contra um novo 11 de Setembro, e funcionou".
Agora, o retorno dos talibãs ameaça oferecer novos santuários ao jihadismo, adverte.
De maneira contrária, Trump, que foi o primeiro a falar em retirada, e depois Biden, mas também grande parte dos líderes políticos americanos, apostaram que o renascimento de um regime islamita em Cabul não é uma ameaça vital para os Estados Unidos, e que permanecer teria um custo político mais elevado do que partir do país.
Sensação de poder
A brusca saída do Afeganistão reaviva o debate sobre o controverso legado dos conflitos iniciados pelos americanos a milhares de quilômetros de casa em nome da sagrada "segurança nacional".
"Guerra contra o terrorismo" foi a expressão anunciada pelo então presidente George W. Bush durante a noite de 11 de setembro de 2001.
Era tempo de unanimidade. Com quase 3.000 mortos em casa, os Estados Unidos estavam impactados como nunca desde o ataque a Pearl Harbor em 1941, e o país precisava contra-atacar.
Naquele ano de 2001, o mundo entrou no novo milênio. Tanto mais abruptamente quanto uma década terminava, a de 1990, durante a qual os Estados Unidos adquiriram o status um tanto enganoso de superpotência.
A queda da União Soviética e a Guerra do Golfo, seguida da adesão da China à Organização Mundial do Comércio (OMC), estabeleceram a ideia de uma supremacia ideológica e militar dos Estados Unidos.
O intelectual americano Francis Fukuyama chegou a mencionar o "fim da história", o que representaria a vitória da democracia liberal.
Para Andrew Bacevich, presidente do Quincy Institute for Responsible Statecraft, grupo que defende a moderação na política externa, esta "arrogância ideológica e a crença em que as forças americanas eram invencíveis" tiveram consequência.
Levaram W. Bush e os que o cercaram "a considerarem o 11/9 não apenas como um tapa imperdoável, mas também como uma oportunidade para demonstrar, sem sombra de dúvidas", o suposto superpoder americano, disse.
"Conosco ou com os terroristas"
Cercado de neoconservadores intervencionistas decididos a promover o modelo democrático em todo planeta, o presidente republicano apresentava uma definição muito ampla de sua "guerra contra o terrorismo".
"Ou está conosco ou está com os terroristas", resumia "W", que anunciou uma "longa campanha sem precedentes contra todos os regimes que apoiam o terrorismo".
Em janeiro de 2002, quando os talibãs haviam sido derrubados, e a Al-Qaeda já havia havia sofrido derrotas consideráveis, W. Bush anunciou um "eixo do mal", muito distante do objetivo inicial, integrado por Irã, Iraque e Coreia do Norte.
Acreditando que ainda desfrutava da simpatia global que se manifestou após os ataques de 11/9, seu governo embarcou em uma perigosa marcha para a guerra no Iraque, ao acusar Saddam Hussein, sem provas, de esconder armas de destruição em massa.
Mas ele se enganou: "A unanimidade se desgastou muito rapidamente, e a imagem dos Estados Unidos não para de cair", destacou Tenenbaum.
A invasão do Iraque, em 2003, esbarra na rejeição de boa parte da opinião pública internacional e "vai ressuscitar ideologicamente o jihadismo internacional que, de fato, estava bastante enfraquecido depois de 2001", relata.
Uma nova geração de jihadistas emergiu, formada por jovens da região, mas também por ocidentais, que pretendiam enfrentar as "forças de ocupação" após a queda de Saddam.
Dez anos depois, a saída dos americanos deixou um vazio que favoreceu o surgimento do grupo extremista Estado Islâmico (EI) e seu "califado" entre o Iraque e a Síria. E Washington se viu obrigado a retornar, em 2014, liderando uma coalizão militar internacional.
Imagem arranhada
O balanço da guerra contra o terrorismo é misto, para dizer o mínimo.
Mais de 800.000 pessoas morreram, com um preço elevado pago por civis iraquianos e afegãos, a um custo superior a US$ 6,4 trilhões para os Estados Unidos, segundo um estudo publicado no fim de 2019 pela Universidade de Brown.
Não aconteceu um novo 11 de setembro, mas os ataques do EI deixaram a Europa de luto, e a ameaça terrorista persiste, embora mais difusa e descentralizada. Atualmente, há duas ou três vezes mais jihadistas em todo mundo do que em 2001, segundo uma estimativa citada por Tenenbaum.
A imagem dos Estados Unidos está arranhada. O uso da tortura, a abertura da prisão de Guantánamo, em Cuba, para privar os acusados das proteções constitucionais americanas, ou a banalização das "eliminações seletivas" por drones no exterior deixaram a principal potência mundial à margem do Estado de direito.
A observação de Marsin Alshamary, especialista em Oriente Médio radicada em Bagdá, é amarga: "A população da região é jovem e conhece apenas estes Estados Unidos". Não se recordam do 11 de setembro de 2001.
A professora visitante da Harvard Kennedy School acrescenta, porém, que "o 11/9 provocou duas guerras que mudarão para sempre o equilíbrio de poder na região".
O enfraquecimento do Iraque fortaleceu, paradoxalmente, o "poder regional do Irã", o grande inimigo dos Estados Unidos, "empurrando a Arábia Saudita a reagir em uma concorrência com efeitos desastrosos", afirma, em referência ao conflito indireto entre os dois países no Iêmen.
China, "desafio" do século
Um certo consenso existe hoje: a guerra contra o terrorismo se desviou da meta inicial.
Embora no início tenha permitido a redução da ameaça, o Ocidente não conseguiu "administrar a fase de estabilização dos países, provocando um cansaço político ante as guerras", opina Tenenbaum.
Até mesmo Bolton, que não compartilha o plano de exportar a democracia à força, critica o desejo de "construir nações" a qualquer custo, em vez de se buscar os objetivos mais simples da lucha contra o terrorismo.
Para justificar a retirada do Afeganistão, Biden argumenta que os Estados Unidos devem reservar forças e recursos para enfrentar seus "rivais estratégicos reais: China e Rússia".
Pequim, e não mais o terrorismo, é o que o governo Biden considera o "maior desafio geopolítico do século XXI", assim como a maioria dos políticos, diplomatas e intelectuais americanos.
Para Bacevich, tudo caminha para "uma nova Guerra Fria com a China".
"É realmente uma mudança para um novo cenário, em que se retomará o esforço para preservar, ou restaurar, a primazia americana e onde o problema será definido mais uma vez em termos militares", conclui.
Saiba Mais
-
![]() Brasil
Anvisa autoriza estudo clínico de vacina contra covid da Inovio Pharmaceuticals
Brasil
Anvisa autoriza estudo clínico de vacina contra covid da Inovio Pharmaceuticals
-
![]() Blogs Redirect
Arrecadação soma R$ 171,2 bi em julho, melhor dado para o mês desde 1995
Blogs Redirect
Arrecadação soma R$ 171,2 bi em julho, melhor dado para o mês desde 1995
-
![]() Mundo
Mãe reencontra bebê que passou 4 dias perdida em floresta na Rússia
Mundo
Mãe reencontra bebê que passou 4 dias perdida em floresta na Rússia
-
![]() Mundo
Banco Mundial diz que apenas 7% deixam Bolsa Família de forma gradual
Mundo
Banco Mundial diz que apenas 7% deixam Bolsa Família de forma gradual
Notícias pelo celular
Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.
Dê a sua opinião
O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.
 Brasil
Brasil
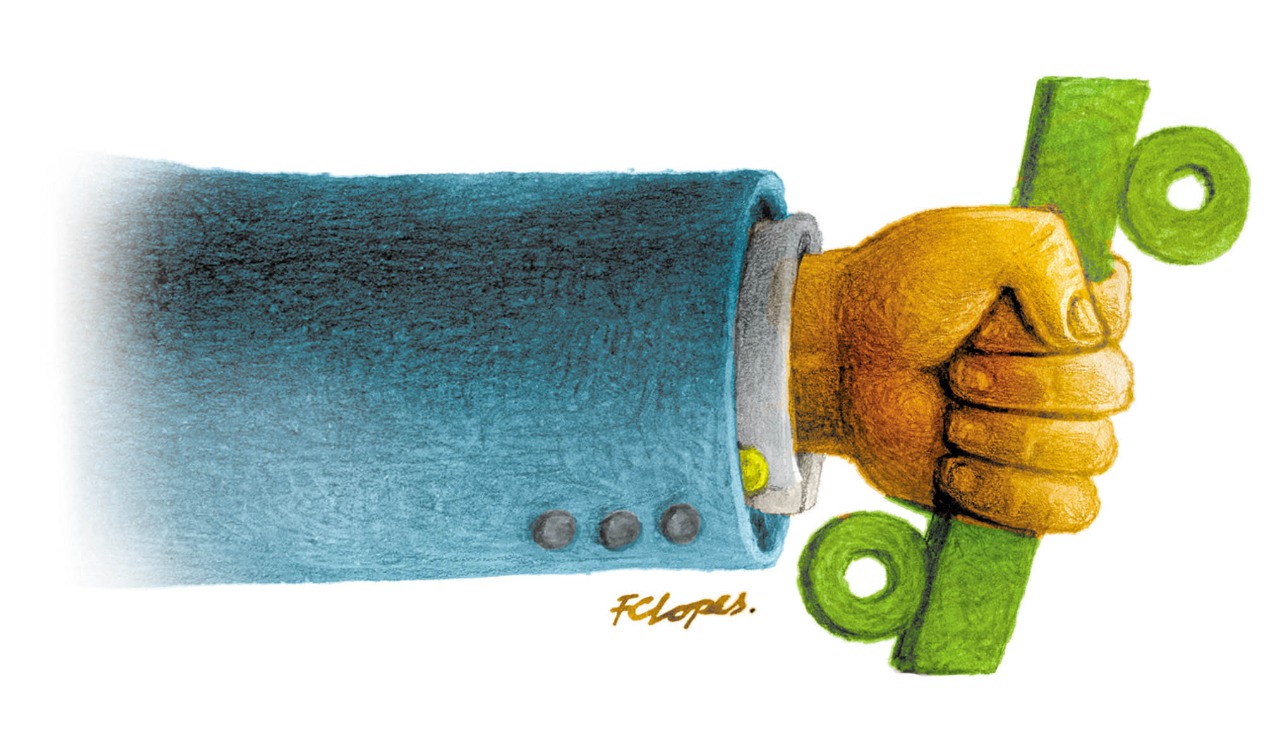 Blogs Redirect
Blogs Redirect
 Mundo
Mundo
 Mundo
Mundo