
Em um país construído sobre a exploração de corpos negros, a força atribuída às mulheres negras nunca foi elogio, foi exigência. Desde o Brasil escravocrata até os ambientes acadêmicos, corporativos e afetivos da atualidade, ser uma "mulher negra forte" ainda é lido como vocação, não como violência. A sociedade espera que essas mulheres estejam sempre prontas para trabalhar mais, para suportar mais, para cuidar de todos, para não chorar, não reclamar, não adoecer, não pedir ajuda. É como se a fragilidade fosse um privilégio reservado a outras.
Ao longo desta reportagem, histórias cruzadas mostram como esse mito funciona como engrenagem que molda vidas, silencia dores e limita possibilidades. Das ruas do Eixão do Lazer aos corredores de universidades, passando por consultorias de diversidade e pela história do cinema brasileiro, as narrativas revelam que a força ainda é um destino imposto, mas também um campo de ressignificação.
- Leia também: Médica afirma que violência obstétrica atinge mulheres negras de forma desigual
- Leia também: Marcelle Thimot detalha os riscos para as mães negras
Sandra Marly Silva Godois, 51 anos, trabalha na limpeza em um órgão público e também mantém uma barraca de drinques no Samba da Tia Zélia e no Eixão do Lazer durante o fim de semana. Em diversas ocasiões, já sentiu que nunca podia desmoronar, mas um dia, ao machucar a mão, ouviu uma frase que nunca esqueceu: "Ouvi o absurdo: 'Para de ser fresca, você é mulher preta'."
A fala, dita de forma natural e quase como um "atestado biológico", esconde séculos de racismo. Sandra lembra que isso não foi um caso isolado. Em outras situações, em relacionamentos e no convívio com amigos, ela nunca pode ser vista em uma posição de "coitadinha". No entanto, as consequências de ser vista como se fosse de ferro, gerou muitos danos. "Já estragou uma vida a dois. Hoje não quero repetir atitudes que demonstrem que nunca posso cair."
A trajetória dela ecoa um mecanismo que especialistas chamam de hipervirilização da mulher negra: quando a sociedade a lê mais como força de trabalho do que como sujeito emocional. Mesmo assim, Sandra tenta transformar a dureza em potência. "Costumo usar o sorriso como uma liberdade, conquista e satisfação. Mostrar que sou capaz e posso chegar longe, apesar de a sociedade hipócrita tentar sempre devastar."
Ela entende, contudo, que esse sorriso também é armadura. "Hoje estou numa função que não é o que quero para sempre. Muitas vezes, incomodo quando me expresso de forma adequada. Tem gente que acha que sou 'topetuda' ao tratar do que é justo. Essa 'topetude' nada mais é do que autodefesa e, ao mesmo tempo, o que muitas vezes é interpretado como agressividade.
Construção histórica desse imaginário
Para compreender por que Sandra vive isso, é preciso voltar ao período colonial. "Veem a gente, mulheres negras, e já trazem isso lá do tempo em que fomos escravizadas. Olham para os nossos antepassados e acham que a gente tem que ser sempre forte, que tem que aguentar tudo: o chicote, a dor, engolir calada. E nos veem como se não tivéssemos o mesmo espaço que as mulheres brancas. Acham que a gente não tem o direito de ser mimada, no sentido de querer o melhor, de poder ser frágil, de sentir, de chorar, e de ter alguém que seja um bom cavalheiro, que nos ofereça flores, abra a porta do carro, ande de mãos dadas", desabafa Sandra. "Muitas vezes, até o homem da nossa própria etnia trata a gente como se precisássemos ser fortaleza o tempo inteiro."
A psicóloga e psicanalista Ana Luísa Coelho reafirma que o estereótipo nasce do período escravocrata, quando mulheres negras foram usadas como força de trabalho, como amas de leite, como reprodutoras e alvo de violência sexual. Seus corpos eram vistos como resistentes, sem direito à fragilidade.
Essa visão atravessou o tempo. Passou pela figura da mucama subserviente, da mulata hipersexualizada e da "mãe preta" abnegada, estereótipos analisados pela antropóloga e escritora Lélia Gonzalez e que moldaram a forma como a sociedade enxerga as mulheres negras. Ana Luísa observa, na prática clínica, que essas narrativas continuam vivas. "Muitas mulheres negras não conseguem nomear a própria dor porque foram ensinadas a suportar. A aguentar. A não admitir fragilidade."
Essa negação da vulnerabilidade gera, segundo ela, sintomas graves: ansiedade intensa, insônia, sensação de inadequação, exaustão profunda e somatizações. "A sociedade naturaliza sua dor e julga qualquer vulnerabilidade como inconveniente", afirma. A psicóloga explica que o estigma da força também atua como uma forma de apagamento identitário. Segundo ela, quando a sociedade insiste em enquadrar mulheres negras como inabaláveis, impede que elas construam uma autoimagem complexa, que inclua fragilidades, hesitações e desejos.
"Muitas chegam dizendo que não sabem quem seriam sem a responsabilidade de sustentar tudo e todos. A força vira parte da identidade, mas não por escolha, e sim por imposição." Esse processo, afirma a psicóloga, faz com que mulheres negras aprendam a se medir pela capacidade de "dar conta", e não pela capacidade de sentir ou se reconhecer. "Elas não são autorizadas a ser vulneráveis, mas também não são autorizadas a ser inteiras."
Ana Luísa destaca que essa narrativa repercute nas relações afetivas e amorosas, em que mulheres negras, muitas vezes, assumem papéis de amparo emocional que não são recíprocos. "Elas são vistas como apoio, como porto-seguro, como referência de força, mas não como alguém que também precisa de colo, de cuidado ou de gentileza."
Para a psicóloga, isso cria ciclos de relacionamentos assimétricos, nos quais a mulher negra oferece disponibilidade emocional, mas dificilmente a recebe. E esse padrão não surge apenas de parceiros brancos: "Muitas relatam que até homens negros esperam delas uma resistência permanente, como se fosse algo natural". Ana Luísa reforça que isso não é sobre individualidade, mas sobre um imaginário social que atravessa todos.
Por fim, ela alerta que a desconstrução desse mito precisa ser um processo coletivo, e não apenas um esforço individual de cada mulher. "É muito cruel exigir que elas, sozinhas, desmontem algo que foi construído historicamente para mantê-las em um lugar de sobrecarga." Para a psicóloga, a sociedade precisa aprender a reagir de outra forma quando uma mulher negra chora, desaba, questiona ou pede ajuda, e isso começa pela escuta. "Elas querem poder existir sem máscaras, sem armaduras, sem a necessidade de provar força. O que elas pedem não é privilégio: é humanidade."
Maior cobrança no trabalho
No mundo corporativo, a força atribuída às mulheres negras funciona como justificativa para sobrecargas e para a ausência de reconhecimento. A consultora e CEO da EmpregueAfro, Patrícia Santos, diz que vê esse padrão diariamente. "O estereótipo cria um filtro invisível que distorce a percepção sobre profissionais negras. Gera expectativa de resiliência acima do normal e subvalorização de competências estratégicas."
Ela explica que muitas empresas tratam mulheres negras como "essenciais" para tarefas operacionais, mas não as enxergam como líderes, porque líderes podem demonstrar dúvida, pausa, erro. E isso, para elas, ainda é negado. "A cobrança é maior, a tolerância ao erro é menor, e a fragilidade emocional é vista como falta de preparo. É muito cruel."
Nos relatos que recebe nas consultorias, um padrão se repete. "Há cansaço emocional extremo, medo de demonstrar fragilidade e estagnação de carreira porque funcionam tão bem onde estão", salienta. Para a especialista, a equidade começa pelo mais básico. "Nenhuma profissional é completa se não pode errar, pedir ajuda ou descansar."
A estudante de publicidade Annelise Azevedo, 19 anos, vive a versão mais jovem desse mesmo estigma. Ela percebe expectativas diferentes sobre suas emoções e comportamentos na faculdade e no trabalho. "As pessoas esperam que eu seja simples e forte. No profissional, tenho dificuldade de demonstrar emoções porque tenho medo de não passar credibilidade."

Esse autocontrole excessivo afeta também seus relacionamentos. "Sou uma pessoa mais desconfiada e, às vezes, não consigo me expressar 100%. Acho que é por carregar essa ideia de que preciso ser forte." Há, ainda, o estigma da agressividade. "Às vezes estou falando de forma tranquila e as pessoas acham que estou gritando."
Mesmo tão jovem, ela já está num processo de desconstrução interna, um movimento que, muitas vezes, mulheres brancas só enfrentam muito depois, ou nunca. "Quero estar ao redor de pessoas que me veem como pessoa real, não como rótulo."
Dor ignorada
O mito da força negra não é apenas emocional ou social, ele é mortal. Na saúde, especialmente no parto, mulheres negras têm a dor minimizada, recebem menos analgesia e são menos ouvidas. Isso contribui significativamente para a maior mortalidade materna entre mulheres negras no Brasil. É a versão mais brutal do “aguente calada”.
A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, reforça que romper com o estigma da mulher negra forte exige presença política e políticas públicas que enfrentem diretamente as raízes do racismo estrutural. Para ela, esse é um processo que só avança quando o Estado assume seu papel na reconstrução do imaginário social. “As políticas e iniciativas do MIR buscam, dessa forma, trazer dignidade para toda população negra”, afirma, destacando ações que vão do combate à violência política de gênero ao incentivo a empreendimentos liderados por mulheres negras, passando pela inclusão de quilombolas, indígenas, ciganas e mulheres com deficiência no mercado de trabalho.

Na saúde, Anielle ressalta que a centralidade está na escuta e na reformulação de protocolos que acolham necessidades específicas, como políticas clínicas para que considerem raça e gênero no pré-natal e no parto, articuladas à formação contínua de profissionais, ao uso do quesito raça/cor em todos os sistemas e ao enfrentamento da violência obstétrica. “O racismo adoece”, diz, defendendo que reconhecer a vulnerabilidade das mulheres negras é garantir dignidade no cuidado, físico, mental e emocional.
Ao abordar como essa discussão atravessa também sua vida pessoal e política, Anielle explica que a cobrança por força constante é um peso histórico que tenta ressignificar em compromisso coletivo. "Ninguém precisa ser forte todo o tempo. Eu mesma vivo aqui esse desafio de comandar a pasta da Igualdade Racial, um espaço que é muito potente, mas que abre portas para muitas violências. Para mim, é importante pensar que preciso ter a chance de me construir enquanto pessoa especialmente porque tenho duas filhas, quero que elas me vejam rindo, chorando, vivendo de verdade. É sobre a oportunidade de existir em plenitude, esse é um direito das mulheres negras e de todas as pessoas", destaca.
O reforço da autoestima
A autoestima para a mulher negra é uma ferramenta essencial de enfrentamento contra a desvalorização sistemática imposta pela sociedade. De acordo com Winnie Santos, psicóloga e coordenadora de projetos no Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), a construção da autoimagem feminina negra é marcada desde a infância por um sentimento de não pertencimento.

“Desde cedo, somos colocadas em um lugar de não pertencimento, especialmente no que diz respeito à beleza e à afetividade”, explica. Ela ressalta que a mulher negra precisa fazer um exercício constante de valorização da própria autoimagem. Compreender-se como alguém que é belo, que pode ser amado, cuidado, preferido e não preterido.
Esse histórico de desvalorização é intensificado pelo racismo institucional, que atua no abalo contínuo da autoestima em diversos ambientes. Winnie aponta que o racismo opera sutilmente desde a primeira infância — a partir da menor atenção e acolhimento recebidos (a “democratização do colo”, como escreve sua irmã, a escritora Jussara Santos, no livro com esse título) — até o ambiente de trabalho, onde mulheres negras, historicamente, ocupam posições mais precarizadas e recebem salários inferiores.
Dados comprovam a fala de Winnie. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, no primeiro trimestre de 2023 a remuneração média das mulheres negras era de R$ 1.948, o que equivale a 62% do que as mulheres não negras ganham, 80% do que os homens negros ganham e 48% do que homens brancos ganham.
A psicóloga também critica a forma como a mulher negra é percebida no serviço de saúde. “No sistema de saúde, a mulher negra é vista como mais forte, e sua dor não é levada tão a sério quanto a dor de uma mulher branca.” Esse histórico, para ela, é um reforço contínuo do “não lugar”, que exige um esforço desgastante de provar que se é merecedora.
Uma história de cinema
A cineasta Adélia Sampaio, primeira mulher negra a dirigir um longa no Brasil, conta que a dificuldade de acesso foi a regra desde o início. “A oportunidade é muito difícil para mulheres negras. Para as brancas, é mais tranquilo.” Sua trajetória é marcada por ausências e resistências. “Minha mãe era empregada doméstica. Fiquei muito tempo no asilo até reencontrá-la.” E foi em meio a essas vulnerabilidades que ela descobriu o cinema. “Quando vi Ivan, o terrível, eu disse: 'Vou fazer isso. De um jeito ou de outro vou fazer cinema'.”

Mesmo juntando pedaços de película, mesmo sem portas abertas, ela persistiu e transformou cada porta fechada em impulso criativo. A rejeição inicial ao financiamento de Amor maldito, por abordar um romance entre duas mulheres, poderia ter encerrado sua trajetória. Mas ela escolheu o contrário: reuniu aliados, conquistou o apoio inesperado de uma engenheira que acreditou em seu sonho sem sequer ler o roteiro, e mobilizou amigos e atores para viabilizar o longa. Foi assim que, mesmo diante do preconceito institucional, escreveu seu nome na história.
A recepção hostil ao filme também não a deteve. Adélia aceitou lançá-lo travestido de pornô, única forma encontrada para garantir sua circulação na época. A estratégia, embora amarga, abriu caminho para que Amor maldito chegasse ao público e fosse finalmente reconhecido como uma obra sociológica e corajosa. A crítica de Leon Cakoff, denunciando o absurdo da classificação, reposicionou o longa, permitindo que ele ganhasse novas salas, pagasse seus custos e alcançasse festivais internacionais. Era a prova de que, apesar de todos os obstáculos, sua visão artística não poderia ser silenciada.
Aos 81 anos, Adélia segue observando mudanças que a emocionam. Ela celebra cada jovem negra que hoje ocupa a cidade com seus cabelos naturais, livres, fortes, afirmados. Esse gesto cotidiano, diz, é também uma conquista coletiva. É o reflexo de uma luta longa, a dela e a de tantas outras, para que mulheres negras pudessem existir com dignidade, estética, autonomia e desejo.
Como romper o ciclo?
A dificuldade em ocupar posições de prestígio e a intersecção entre gênero e raça são evidenciadas em dados de liderança no Brasil. De acordo com o Relatório de Liderança Feminina e Racial da Talenses Group e Insper (2023), as mulheres negras representam apenas 10% dos cargos de liderança, como de coordenadoras, gerentes e diretoras, nas empresas brasileiras. Em contraste, as mulheres brancas ocupam 36,9% dessas posições, e os homens brancos, 45,5%. Essa disparidade materializa o que a psicóloga Winnie Santos descreve: a mulher negra é afastada do “lugar padrão” de inteligência, capacidade e valor, o que gera um impacto direto na construção da autoestima dela.
Para a reconstrução e o fortalecimento da autoestima, são essenciais tanto os caminhos individuais quanto os coletivos. O acesso à terapia e ao cuidado psicológico é vital, mas frequentemente é negado às mulheres negras, como se o sofrimento fosse um privilégio de outros grupos. Por isso, o coletivo é igualmente crucial. “Estar em rodas de conversa, acessar espaços de troca com outras mulheres negras, compartilhar vivências que têm a mesma origem. Criar possibilidades de acolhimento e fortalecimento”, acrescenta.
Ter autoestima, para a mulher negra, é a chave para o enfrentamento e a reivindicação do seu espaço. Do ponto de vista psicossocial, reforçar a autoestima dá ferramentas para o enfrentamento, permitindo que ela se posicione e dispute espaços. “Pessoas brancas têm o privilégio de simplesmente existir, ocupar espaços sem ter que legitimá-los. A mulher negra, por outro lado, precisa reivindicar a possibilidade de estar. Ter autoestima é ter fôlego para existir nesses ambientes, para não ceder ao apagamento e para seguir ocupando espaços que deveriam ser acessíveis a todas”, conclui Winnie.
Para a psicóloga e psicanalista Ana Luísa Coelho, romper esse ciclo exige localizar o racismo como parte central do cuidado psicológico. “Não é uma questão individual. É uma estrutura”, diz. A psicóloga defende políticas públicas específicas, formação antirracista de profissionais de saúde e acolhimento emocional como estratégia de reparação histórica. Patrícia Santos, fundadora do EmpregueAfro, reforça que as empresas têm papel fundamental. “É preciso patrocinar trajetórias, rever padrões internos, criar espaços seguros, onde demonstrar vulnerabilidade não seja punição.”
Sandra, Annelise e Adélia, cada uma à sua maneira, mostram que o caminho passa também por cultivar espaços onde mulheres negras não precisem ser fortes para existir. As três personagens têm idades, trajetórias e universos diferentes. Mas, quando suas vozes se encontram, revelam um elo profundo: o peso de serem vistas antes como força do que como mulheres.
Sandra resume o sentimento. “Entender que somos gente, somos humanas. Nossa força vem de muito sofrimento, humilhação e da busca de entender que também somos capazes. Minha pele não transmite horror.” A frase sintetiza a tensão entre orgulho e exaustão que atravessa tantas. E é aí que a frase da autora Bell Hooks, citada por Ana Luísa, faz sentido como farol: “Cuidar de nós mesmas, mulheres negras, é um ato político”.
Três livros para saber mais sobre as mulheres negras
- Quarto de despejo: diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus
- Por um feminismo afro-latino-americano, de Lélia Gonzalez
- Erguer a voz: pensar como feminista, pensar como negra, de Bell Hooks
*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

 Revista do Correio
Revista do Correio
 Revista do Correio
Revista do Correio
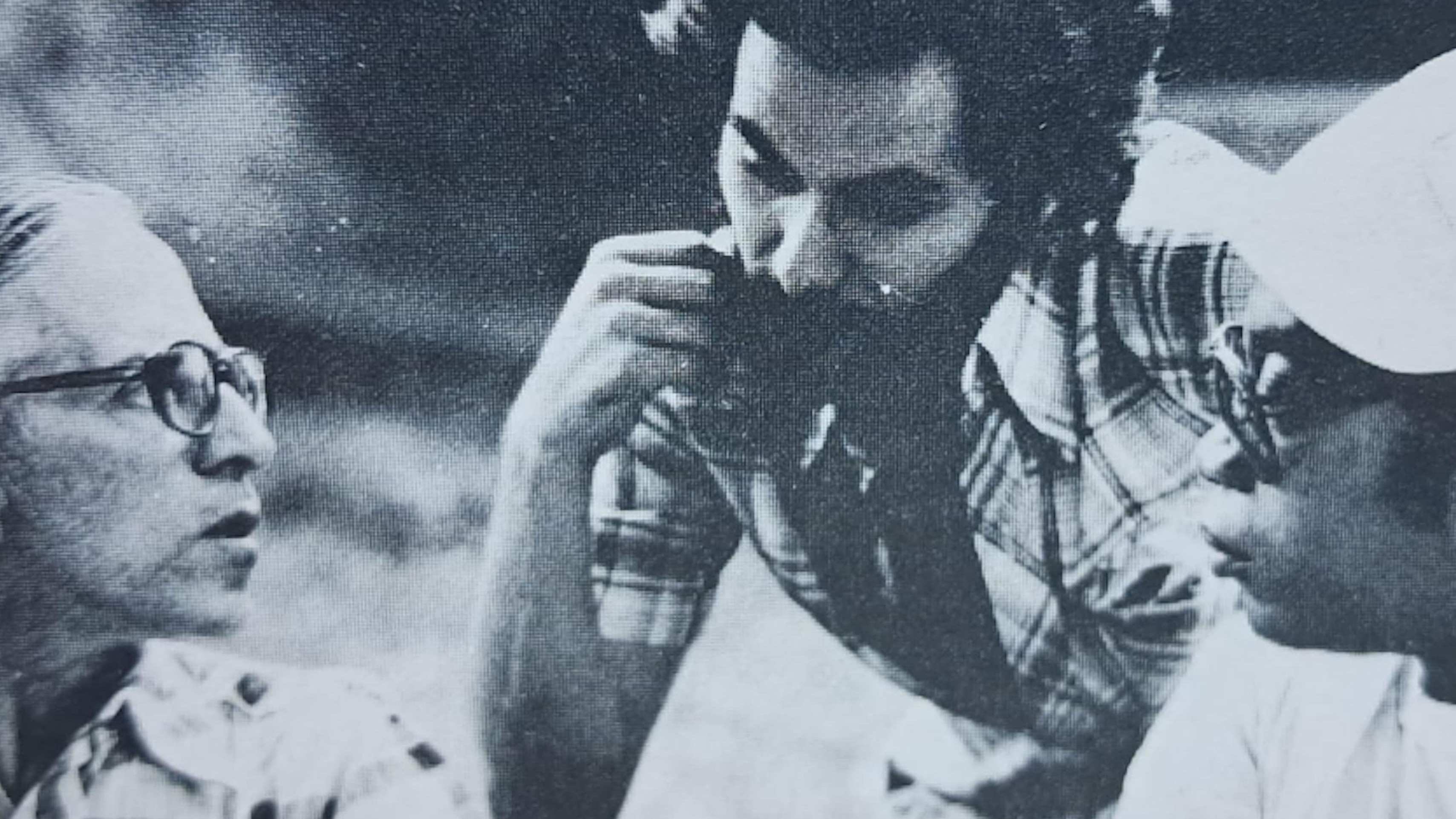 Brasil
Brasil




